
Do Panoptismo à Plataformização: Vigilância Algorítmica e o Novo Regime de Controle na Sociedade da Informação
Matheus Kauan Santos
Alessandra Matos
Introdução
As transformações tecnológicas das últimas décadas reconfiguraram profundamente as formas de controle social. No lugar das estruturas tradicionais de vigilância disciplinar, marcadas por delimitações físicas e pela centralidade institucional, emerge um novo modelo de regulação difusa, automatizada e onipresente, operada por meio de plataformas digitais e algoritmos.
Essa mutação do paradigma de vigilância pode ser compreendida a partir do deslocamento do panoptismo foucaultiano para o que se convencionou chamar de “plataformização” da sociedade.
O presente artigo objetiva discutir esse deslocamento teórico e prático, apontando os desafios que decorrem da substituição do olhar disciplinador pelo cálculo algorítmico, e refletindo sobre os efeitos dessa nova lógica sobre a cultura digital, a autonomia informacional e os direitos fundamentais.
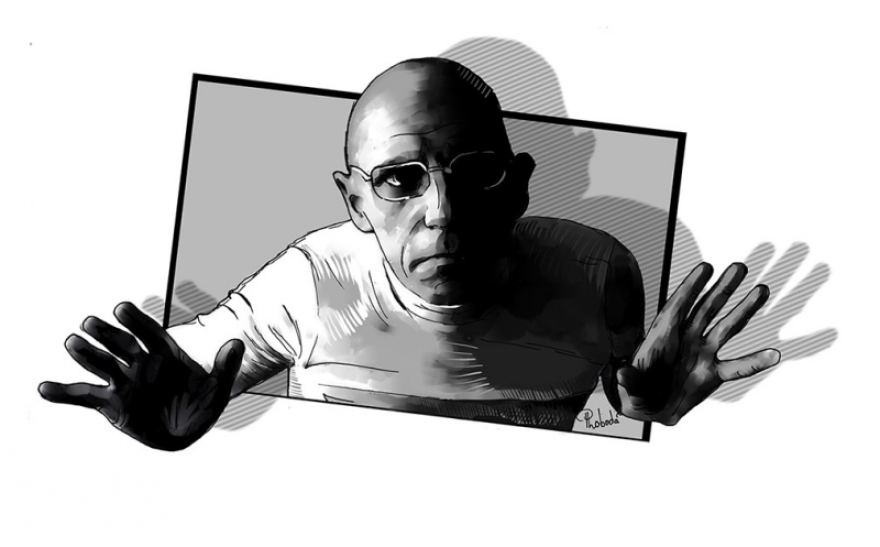
O panoptismo e a genealogia do controle disciplinar
Michel Foucault, em sua obra Vigiar e Punir, descreve o panóptico como uma figura arquitetônica ideal que sintetiza o funcionamento das sociedades disciplinares. Inspirado no projeto de prisão de Jeremy Bentham, o panóptico permite a vigília constante de indivíduos por um observador invisível, criando um estado permanente de auto-regulação.
Para Foucault, trata-se de um mecanismo de poder que se internaliza nos sujeitos, promovendo não apenas a obediência, mas a produção de subjetividades moldadas pela norma.
Essa forma de poder disciplinar caracterizou os dispositivos institucionais modernos — prisões, escolas, fábricas, quartéis — nos quais a visibilidade dos corpos era condição para a eficácia do controle.
O poder operava por meio da vigilância contínua e da normalização das condutas. Contudo, à medida que as relações sociais se deslocam para o ambiente digital e em rede, esse modelo espacializado de vigilância torna-se insuficiente para compreender os novos regimes de regulação social, mais fluidos, não territoriais e operados por dispositivos técnico-algorítmicos.
A lógica de poder passa a ser conduzida por “máquinas que organizam diretamente o cérebro (em sistemas de comunicação, redes de informação etc.) e os corpos (em sistemas de bem-estar, atividades monitoradas etc.) no objetivo de um estado de alienação independente do sentido da vida)” (HARDT; NEGRI, 2005).
Da sociedade disciplinar à sociedade de controle: o papel das plataformas
A transição do panoptismo à plataformização pode ser entendida a partir da noção de “sociedade de controle”, elaborada por Gilles Deleuze. Diferentemente das instituições fechadas das sociedades disciplinares, o controle nas sociedades contemporâneas opera de forma modulada, contínua e móvel, atravessando fluxos de dados e redes descentralizadas.
O poder já não se exerce sobre corpos isolados em espaços delimitados, mas sobre perfis, padrões e probabilidades em ambientes digitais mediados por tecnologias.
Todos os aspectos da nossa rotina diária agora são “checados, monitorados, testados, avaliados, apreciados e julgados” (BAUMAN; LYON, 2017).
Esse novo arranjo, as plataformas digitais assumem o papel de instâncias normativas, mediando relações econômicas, culturais e sociais com base em lógicas algorítmicas e modelos de negócio centrados na coleta de dados.
Essa mudança marca uma ruptura significativa com os modelos de vigilância tradicionais. Se antes o olhar panóptico era centralizado e operava em instituições específicas, como prisões, escolas ou hospitais, agora ele se fragmenta e se distribui pelas redes digitais, integrando-se às próprias dinâmicas da vida cotidiana.
O controle se dá por meio de incentivos sutis, gamificação, recomendações personalizadas e mecanismos de reputação, que conduzem comportamentos sem imposição direta.
Assim, a vigilância se torna sedutora, integrada ao consumo e à performance do eu nas redes, fazendo com que os sujeitos se tornem, ao mesmo tempo, objetos e agentes do controle.
O conceito de plataformização, conforme discutido por autores como Nick Srnicek, refere-se não apenas à popularização de serviços digitais, mas à consolidação de um regime econômico-político baseado na extração e apropriação de dados como recurso estratégico, à intermediação automatizada de interações sociais e à consolidação de monopólios informacionais.
E neste cenário “os cidadãos, os trabalhadores e os consumidores são agora mais visíveis para os vigilantes invisíveis que os submetem a um controle cada vez mais constante e imperceptível “ (PRIOR, 2011).
Empresas como Google, Meta e Amazon não apenas oferecem serviços e produtos; elas condicionam o modo como os sujeitos acessam informação, se comunicam e se posicionam socialmente.
Essas plataformas operam como infraestruturas invisíveis que organizam, filtram e direcionam comportamentos, estabelecendo novos parâmetros normativos — muitas vezes sem o conhecimento ou consentimento consciente dos usuários.
O poder não atua mais por coerção explícita, mas por adesão voluntária e participação ativa nas dinâmicas digitais.
A plataformização promove um tipo de governamentalidade algorítmica, em que os usuários colaboram com sua própria vigilância ao produzir continuamente dados que alimentam sistemas de previsão e controle.
Essa lógica transforma ações cotidianas — curtir uma publicação, aceitar cookies, usar um GPS — em insumos para mecanismos de categorização, ranqueamento e exclusão. A normatização se dá, portanto, de forma difusa, automatizada e personalizada, reforçando desigualdades e limitando a autonomia dos indivíduos dentro de bolhas informacionais e regimes de visibilidade calculada.
Algoritmos e o capitalismo de vigilância
Shoshana Zuboff, em A Era do Capitalismo de Vigilância, descreve um novo regime econômico baseado na captura, análise e utilização de dados comportamentais para fins de previsão e modulação de condutas.
Trata-se de um modelo que transforma a experiência humana em matéria-prima gratuita para processos comerciais, promovendo uma vigilância que não apenas observa, mas antecipa e influencia ações futuras.
Nesse contexto, os algoritmos operam como dispositivos de poder que classificam, hierarquizam e personalizam conteúdos de forma opaca e automatizada.
A lógica algorítmica transforma-se em norma operativa, invisível e em grande medida inquestionável, produzindo efeitos normativos sobre os sujeitos. A personalização de experiências digitais — recomendação de conteúdos, direcionamento de anúncios, filtros de visibilidade — converte-se em uma técnica de gestão preditiva da conduta, desafiando princípios de autonomia, privacidade e pluralidade.
A centralidade do dado comportamental cria um mercado de futuros humanos, no qual a atenção, o desejo e a decisão são monitorados, vendidos e manipulados.
O capitalismo de vigilância e a economia do conhecimento, portanto, ampliam e reconfiguram a vigilância como instrumento econômico, aprofundando assimetrias de poder e limitando possibilidades de agência individual.
.png)
Cultura digital, autovigilância e psicopolítica
A cultura digital contemporânea promove formas de autovigilância que reforçam o regime de controle algorítmico. Byung-Chul Han, ao tratar da psicopolítica do neoliberalismo, aponta como os indivíduos, ao se exporem voluntariamente nas redes, participam ativamente do processo de vigilância, internalizando as lógicas de desempenho, transparência e autoexploração.
As dinâmicas das redes sociais baseiam-se na exposição contínua, na busca por validação e na curadoria da própria imagem sob a lógica das métricas e algoritmos. Essa exposição não é apenas voluntária, mas incentivada por um sistema que premia a visibilidade e penaliza a invisibilidade, moldando subjetividades orientadas à performance constante.
Além disso, a internet fornece ao usuário aquilo que ele deseja ver, e não necessariamente aquilo que existe em seu mundo e que ele pode realmente precisar.
E para além disso, segundo Shoshana Zuboff a internet se tornou imprescindível para a convivência social e que aquilo que precisamos dar em troca, para termos acesso a essa nova configuração da sociedade, destruirá a vida como a conhecemos hoje (ZUBOFF, 2021).
Nesse cenário, os sujeitos tornam-se empreendedores de si mesmos, ajustando suas condutas ao que é mais visível, rentável ou relevante, conforme os critérios da plataforma. O controle já não precisa ser imposto externamente: ele é interiorizado, naturalizado e desejado.
A plataformização, nesse sentido, não apenas coleta dados, mas fabrica realidades e subjetividades, tensionando os limites entre liberdade e controle, autenticidade e conformismo.
Considerações finais
A transição do panoptismo à plataformização revela um deslocamento profundo nas formas de controle social, marcado pela centralidade dos dados, pela atuação de algoritmos e pelo poder normativo das plataformas digitais.
O controle não se exerce mais pela coerção visível, mas pela mediação invisível das interações e pela gestão preditiva dos comportamentos.
O poder circula de maneira descentralizada, modulando acessos, oportunidades e visibilidades a partir de lógicas automatizadas. As plataformas, ao mesmo tempo em que oferecem conveniência e conectividade, impõem formas sutis de vigilância e classificação, que naturalizam desigualdades e restringem a autonomia individual.
Trata-se de um regime em que a liberdade aparente convive com um controle contínuo e invisível, ancorado na extração de dados e na antecipação de condutas.
A alfabetização digital crítica torna-se imprescindível para que os indivíduos possam compreender, questionar e resistir às dinâmicas de poder que permeiam o ambiente digital.
Não basta apenas saber usar as ferramentas tecnológicas; é fundamental desenvolver um olhar atento sobre como as plataformas moldam comportamentos, influenciam decisões e perpetuam hierarquias.
Assim, a formação crítica no campo digital emerge como condição essencial para ampliar a autodeterminação, promover a justiça social e mitigar os efeitos opacos do controle algorítmico
É urgente repensar os marcos regulatórios da Sociedade da Informação, com vistas à proteção dos direitos digitais, à promoção da transparência algorítmica e à construção de mecanismos democráticos de governança das plataformas.
A compreensão crítica das novas formas de vigilância é condição necessária para a defesa da democracia e da diversidade cultural no ambiente digital. Não se trata apenas de resistir à vigilância, mas de imaginar outros modos de existência informacional que não sejam colonizados pelo cálculo e pela predição.
Referências:
BAUMAN, Z; LYON, D. Vigilância líquida. Rio de Janeiro: Zahar: 2017.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes,1987.
DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre as sociedades de controle. In: Conversêções. São Paulo: Editora 34, 1992.
HAN, Byung-Chul. Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.
HARDT, M; NEGRI, A. Império. Rio de Janeiro: Editora Record, 2005.
PRIOR, H. Democracia deliberativa e vigilância electrônica: da participação ao panóptico cibernético. Estudos em Comunicação. COvilhã, n. 10, dez de 2011. Disponível em https://www.ec.ubi.pt/ec/10/pdf/EC10-2011Dez-20.pdf. Acesso em 1º de junho de 2025.
SRNICEK, Nick. Capitalismo de plataforma. São Paulo: Autonomia Literária, 2017.
ZUBOFF, Shoshana. A era do capitalismo de vigilância. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020.









Texto muito interessante!
De fato, hoje em dia a vigilância é autônoma e voluntária, e a questão da performance permeia todos os traços do convívio social e inclusive dos processos de individuação, de forma quantitativa e qualitativa.
Debate muito pertinente e necessário!